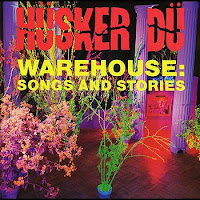Continuando no tema
Hüsker Dü, segue um texto que o amigo
Júnior Elcio, também grande fã do trio de Minneapolis, escreveu há alguns anos para o site Alucináticos, mas que acabou nunca sendo publicado. Por apresentar um enfoque mais minucioso e informativo, acredito que ele complete bem as lacunas deixadas pelo meu relato. O legal é que, apesar de trilharem caminhos diferentes, os dois textos acabam convergindo em diversos pontos.
Prometo que, depois dessa overdose de
Hüsker Dü, não escrevo mais nada sobre nenhum artista de Minneapolis — com exceção de
Replacements e
Prince, talvez (rs).
HÜSKER DÜ - VOCÊ SE LEMBRA? Alguns anos antes de cometer suicídio,
Kurt Cobain mencionou em uma entrevista que uma de suas influências musicais era uma banda de Minneapolis chamada
Hüsker Dü. Foi o bastante para que um dos grupos mais influentes e importantes do rock underground norte-americano tivesse sua obra redescoberta e ficasse um pouco mais conhecido do grande público — e principalmente da "pequena crítica"...
Para quem não conhece ou não se lembra, o Hüsker Dü foi formado em 1979 pelo guitarrista e vocalista
Bob Mould, pelo baterista e também vocalista
Grant Hart e também pelo baixista
Greg Norton. Foi uma banda inovadora e muito influente no som que se ouve em grupos que surgiram nos anos 90 e até hoje em dia. Viraram meio que um mito pelo que realizaram musicalmente. O trio ajudou a mudar a direção do rock and roll alternativo de um modo estrutural, mesmo nunca se mostrando uma banda extremamente conhecida. Ao longo de seus quase nove anos de existência, eles poliram um punk rock/hardcore primal até chegarem em um estilo que, na época, não tinha classificação (como as inúmeras que vemos hoje em dia). Eles souberam mesclar peso e melodia como ninguém e seus discos influenciaram bandas como
Pixies,
Superchunck,
Soul Asylum,
Replacements, além da já mencionada
Nirvana. Dizem até que o
H.D. seria uma das bandas seminais do famigerado movimento Emo (Emotional Hardcore), mas essa heresia é uma das maiores cretinices já ditas sobre essa ótima e pouco conhecida banda.
O
Hüsker Dü foi a primeira banda alternativa a assinar com uma gravadora grande e são lembrados por terem feito isso também sem se deixarem manipular ou perder o controle criativo por pressões de vendagem. Nunca aliviaram pra ninguém, nunca comprometeram suas composições. Acreditaram na música que faziam e isso foi o bastante.
Em 1979,
Bob Mould cursava universidade e trabalhava numa loja de discos quando conheceu
Grant Hart e
Greg Norton. Os três tinham influências musicais diferentes, mas compartilhavam o gosto pelo hardcore e punk rock.
Mould e o baterista
Hart — coisa não muito comum, diga-se — combinaram suas habilidades de compor, tocar e cantar composições com melodias consistentes, muitas vezes seguindo estruturas usadas em canções pop, mas que não deixavam de ser punk rocks originais.
Em 1981, o trio lançou seu primeiro single "
Statues" por um selo local. Logo em seguida, saiu seu primeiro disco "
Land Speed Record". Gravado ao vivo, contém 17 porradas sonoras. Mais tarde, naquele mesmo ano, saiu "
In a Free Land", tão pesado e rápido quanto o anterior. Em 1982, veio "
Everything Falls Apart", o primeiro álbum da banda gravado em estúdio. Nessa época, o grupo começou a viajar incessantemente pelos EUA, tocando em pequenos lugares. Juntamente com bandas como
Minutemen,
R.E.M.,
Black Flag e
The Meat Puppets, o
Hüsker Dü formou um núcleo de bandas independentes que conquistaram fama por excursionarem incessantemente e assim tendo seus discos tocados em inúmeras rádios universitárias.
Depois do lançamento de
"Metal Circus" em 83, o
H.D. se desenvolveu musicalmente em um ritmo veloz com
Mould e
Hart como compositores e vocalistas no disco lançado em 1984, o elogiadíssimo "
Zen Arcade". Este foi um álbum duplo - algo completamente inovador no chamado underground - e mostrava a banda em um momento de ampliação de seus horizontes musicais, apresentando canções mais afiadas e dando mais a atenção e espaço para estrutura instrumental além da busca de elementos para sair do padrão "guitarra-baixo-bateria". Um bom exemplo disso é a faixa "
Hare Krsna", onde a parte instrumental hipnótica é preponderante e mostra bem a habilidade de composição e principalmente o poder sonoro do
Hüsker Dü.
Nessa época,
Bob Mould e
Grant Hart começaram a desenvolver uma rivalidade interna na banda e também uma perigosa dependência de álcool e drogas. Mesmo assim, o grupo lançou dois discos em 1985: "
New Day Rising" e "
Flip Your Wig", que foram bem assimilados por público e crítica. O primeiro mostra o trio produzindo canções pop, mas de peso constante, e o segundo, por sua vez, é considerado o trabalho mais acessível do
H.D., entretanto sem ter feito concessões ao mainstream da época.
Após o lançamento de "
Flip Your Wig", o
Hüsker Dü se tornou a 1º banda pós-punk independente do início dos anos 80 a assinar contrato com uma major, no caso a
Warner Brothers. O bom "Candy Apple Grey" saiu em 1986. Durante esse mesmo ano, a tensão entre
Mould e
Hart aumentou.
Mould iniciou um processo de desintoxicação, porém
Hart piorou seu estado ao aumentar seu abuso de álcool e drogas, chegando a se viciar em heroína. Mesmo assim, eles conseguiram gravar outro álbum duplo: "
Warehouse: Songs and Stories", de 87, sendo considerado pela crítica um dos melhores trabalhos da banda.
Nesse ano, a banda se preparava para mais uma série de shows de divulgação do álbum recém-lançado quando seu empresário,
David Savoy, cometeu suicídio na noite anterior ao início da excursão. Mesmo assim, a banda optou pela turnê, mas a morte de
Savoy foi a gota d'água nos problemas internos que não se resolviam. Após os shows de divulgação do álbum "
Warehouse", o grupo não fez mais apresentações naquele ano iniciando rumores que logo poria fim a sua atividade musical. Em janeiro de 88, o baterista
Hart foi "saído" da banda e assim o
Hüsker Dü acabou.
A antiga edição da revista brasileira
Bizz cobriu um show dos
Dü em 1987. Eles mal se dirigiam à platéia e emendavam suas composições umas atrás das outras. Isso não impedia que tocassem covers como "
Sheena is a Punk Rocker" dos
Ramones ou "
Eight Miles High", do
Byrds. Era "música pela música" e somente isso. Mas o que mais impressionou o jornalista na época foi o fato de, após um show arrasador,
Mould,
Hart e
Norton estarem na saída esperando para cumprimentar e agradecer a presença do público. Atitude essa talvez fruto de uma época e coisa que não se vê muito hoje em dia...
Em matéria de vídeos, o
Hüsker Dü não poderia ser mais fiel a suas gravações de áudio: registros toscos em vhs, vídeos semi-amadores, com exceção do hit "
Could You Be The One", melhor produzido, é verdade, mas que mostra o trio tocando em um cenário comum com projeções de luzes coloridas. E por mais paradoxal que seja, toda essa "produção" foi capaz de captar banda em seu em estado bruto. Um primor de simplicidade e, por isso mesmo, brilhante.
Bob Mould é um caso a parte. Um guitarrista talentoso, mas, acima de tudo, um excelente e prolífico compositor e letrista. Com o entrosamento e o peso que
Grant Hart e
Greg Norton ofereciam, seus riffs marcantes e uma expressiva noção de melodia, compôs prolificamente nos anos de banda e após. Logo depois da separação,
Mould desenvolveu uma criativa carreira-solo lançando dois álbuns: "
Workbook" (que tem uma faixa com o curioso nome de "
Brasilia Crossed With Trenton") e "
Black Sheets of Rain". Depois formaria a banda
Sugar em 1992, lançando dois ótimos discos: "
Copper Blue" e "
File Under: Easy Listening". A (boa) banda
Sugar acabou em 95 e
Mould voltou a sua carreira-solo.
Grant Hart, compositor e letrista eclipsado pela “fama” de
Mould, lançou dois álbuns-solo após o término do
Hüsker Dü e somente depois de controlar seu vício, montou uma banda -
Nova Mob - que lançou dois discos, o último em 1994. E o baixista
Greg Norton, que sempre usou um vistoso bigode bem no estilo daqueles mestres-cucas caricatos, prosaicamente, virou chefe de cozinha (!!!)
Ouvir a obra do
Hüsker Dü é entender melhor o som que é feito hoje em dia, e ainda, anunciado como novidade extrema. E, ao mesmo tempo, conhecer músicas que podem parecer datadas, mas, ao se prestar bem atenção, são, na verdade, composições atemporais. É como se você ouvisse hoje pela primeira vez e pensasse: "Isso parece com alguma coisa... eu já ouvi algo parecido... eu lembro disso..." Só que "isso" foi feito 10, 15 anos atrás e, de algum modo, perdura até hoje. Uma curiosidade: o nome da banda foi tirado de um jogo de trívia dinamarquês dos anos 50 e ironicamente significa exatamente isso: “Você se lembra?”
Hüsker Dü. Ainda hoje, você se "lembra" ?